O domínio conteudístico actual da comunicação mediática, aquela que tem sempre um impacto assaz peculiar na opinião pública, tem sido o do “economês”. Mas, em tempos em que a temática da crise económica não estava tão inflacionada, era o “eduquês” que parecia dominar as discussões dos sábios que propalam a “salvação intelectual” nos programas de debate do horário nobre televisivo. Sabemos que este termo tem sido utilizado com um certo intuito pejorativo, e isto acontece porque a visão peculiar da temática educacional parece ser tão idiossincrática e singular quanto é igualmente a discussão, sempre polémica, da existência de uma ou várias ciências da educação.
Tendo sempre sentido um forte chamamento para a tarefa do ensino (mesmo assumindo que essa acarreta uma certa pretensão de moldagem tirana das consciências do “bom selvagem” à maneira de Rousseau, face às pretensões de um Sistema valorativo politicamente determinado...), foi sempre grande o meu cepticismo acerca da possibilidade de “ensinar a ensinar”, pois sempre senti que um talento natural não pode ser criado artificialmente. Daí que tenha sempre esculpido um olhar desconfiado sobre a “pedagogia” dos peritos do ensino, assim como achei sempre perdulária a discussão daquilo que se pode designar como o “fundamento epistemológico da pedagogia”.
Este último respeita ao carácter mais ou menos científico de uma suposta “ciência pedagógica” que alguns ainda não reconhecem como ente autonómico, sendo que, ao invés de nos acercarmos de uma “ciência da educação”, muitos autores preferem falar de um conjunto de ciências que arquitectam o pensar da Pedagogia. Mialaret, em “As ciências da educação” (1980), organiza as referidas em três conjuntos: 1. Ciências que estudam as condições gerais e locais da instituição escolar (História da educação, Sociologia escolar, Demografia escolar, Economia da educação, Educação comparada); 2. Ciências que estudam a relação pedagógica e o próprio acto educativo (Ciências que estudam as condições imediatas do acto educativo: Fisiologia da educação, Psicologia da educação, Psicossociologia dos pequenos grupos, Ciências da comunicação; Ciências da didáctica das diferentes disciplinas; Ciências dos métodos e técnicas; Ciências da avaliação); e 3. Ciências da reflexão e da evolução (Filosofia da educação e Planificação da educação e teoria dos modelos).
A falta de “estatuto científico” relativo à tarefa dos pedagogos é também, em certa medida, intensificada pela dificuldade que há em objectivar os resultados do ensino e o objecto de aprendizagem. E, como bem sabemos, os números nem sempre reflectem a realidade real. E esta pode ser percepcionada de muitas maneiras...
Penso que há dois fenómenos paralelos que estão a ocorrer no mundo da Educação, sendo que pretendo assumir o risco de acreditar que existe um correlato entre ambos. O primeiro fenómeno diz respeito às novas atitudes pedagógicas, bem visíveis nos diversos graus de ensino, secundário incluído. Estas revelam a preferência pelo “ensino global”, as quais premeiam obstinadamente as novas teorias da educação humanistas e existencialistas, focadas num ensino em que a psicologização e a pedagogização superam a necessidade de aumentar o próprio objecto do conhecimento. É verdade que este tipo de ensino é mais ético, menos intrusivo e mais respeitante da própria etimologia da palavra “educar”, mas também é verdade que ele tem acarretado a infantilização do próprio saber. Se a “educação emocional” é essencial, também é verdade que a escola não pode desvirtuar o objecto dos saberes científicos e literários em nome de uma tarefa que deveria pertencer ao domínio preferencial da família. O segundo fenómeno diz respeito ao facto notório da estupidificação compulsiva das novas massas de educandos. Pois é bem sabido que, a par da diminuição da exigência do ensino, os jovens sabem cada vez menos e são cada vez mais acríticos e nescientes.
A polémica relativa às aulas de Português no básico e secundário expressa bem a infantilização a que me refiro lá em cima. É certo que, segundo uma certa “ciência pedagógica”, parece ser mais eficaz a aprendizagem da língua por meio das leituras de jornais do que por meio da leitura de Camões, Camilo ou do Eça, mas também é certo que desvirtuando a leitura dos clássicos é toda uma cultura e todo um mundo de conhecimento e arte que tendem para a desaparição. É preciso saber escrever, mas também é preciso contactar com o verdadeiro objecto do saber, o qual não pode deixar de ser classicista, defendendo eu que este exercício acabará por ter resultados finais mais expressivos em termos do saber, mesmo que erroneamente expressos em números.
E o que mais assusta é que esta mesma cultura da ignomínia e do facilitismo, magnificamente parodiada pelo “Novas Oportunidades”, já perpassou também para o mundo das Universidades. Nestas, o “eduquês” também já faz vítimas, e as práticas de ensino infantilizado, tão bem exemplificadas pelo recurso aos slides coloridos e aos efeitos de circo do PowerPoint, associadas à epidemia das sebentas e dos resumos, contribuem para desvitalizar o próprio objecto do conhecimento “universal”.
Não quero de forma alguma atirar pedras aos pedagogos, educólogos e psicólogos, mas há dias em que o antigo ensino tradicional e magistrocêntrico, reforçado pelas visitas às bibliotecas poeirentas e enformado pelo exercício de um conhecimento puro e absoluto dos antigos mestres, provoca uma certa “eterna” saudade.











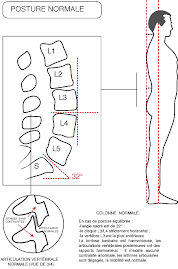


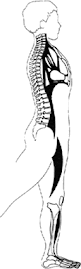


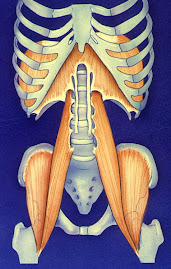





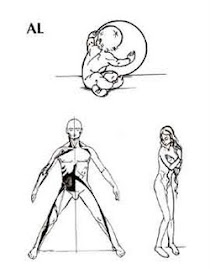


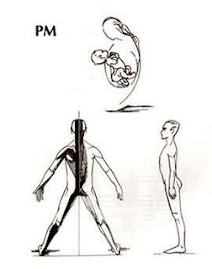





.jpg)



